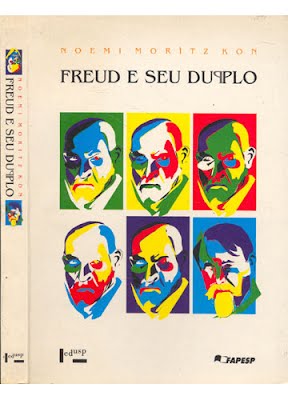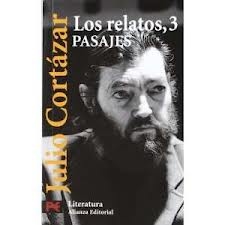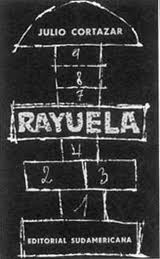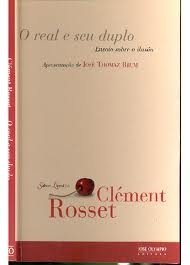O jogo do duplo em Cortázar e sua propiciação de Passagens: uma leitura de Sigmund Freud e Clément Rosset Por Gisele Reinaldo da Silva [1] Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
O fazer psicanalítico é um fazer criador, no sentido de que engendra realidades, ou sentimentos de realidade, no lugar de fazer advir uma realidade já conformada, desde antes, mas esquecida. Noemi Moritz Kon Frayze-Pereira, em “Por uma Poética Psicanalítica”, apresentação do livro de Kon, afirma ser o caminho percorrido pela escritora, na intenção de decifrar a dualidade freudiana, como uma tentativa de “pensar o ato psicanalítico, não pelo vértice científico, como prefeririam alguns, mas pelo vértice estético” (KON, 1996:18). Há no realismo ingênuo, definido por Kon, uma sensação de mundo pronto, desde sempre, cujas coordenadas são o tempo e o espaço. Tal lógica não inclui surpresas com o mundo, com nós mesmos e com o outro, ao contrário, há uma familiaridade de expectativas, a qual a psicanálise tensiona e suprime suas bases. Semelhante ao que a arte faz. Kon (1996:31) defende que “o fazer psicanalítico é um fazer criador, no sentido de que engendra realidades, ou sentimentos de realidade, no lugar de fazer advir uma realidade já conformada, desde antes, mas esquecida”. Ou seja, a psicanálise logra tensionar as verdades de mundo assim como a arte, enquanto experimentação estética, logra fazê-lo. Freud, segundo Kon, vive uma experiência estética a qual não é capaz de reconhecer, negando-a inclusive, ao mesmo em que se aproxima do desejo de viver esta mesma experimentação artística. Em sua carta a Arthur Schnitzler, Freud menciona um “estranhamento familiar” que lhe causa as suposições, os interesses e as conclusões de seu amigo contemporâneo a respeito do amor e da morte, das verdades do inconsciente, da natureza biológica do homem, das convenções sociais. Freud diz parecer que, por fina autoanálise intuitiva, Schnitzler consegue descobrir tudo que ele mesmo vinha pesquisando no outro, durante todo seu trabalho científico investigativo. Schnitzler parece ser o duplo de Freud por representar seu conflito interno entre a ciência e a criação artística. A medicina ou a literatura. Em seu diário, em 15 de maio de 1880, pós o período de um ano em que aceitou estudar medicina, influenciado pelo pai, embora soubesse de suas inclinações literárias, Schnitzler (KON, 1996: 134-135) escreve: Posso meditar o quanto quiser sobre a íntima ligação entre medicina e poesia – e, não obstante, permanece verdade que não se pode ser pleno poeta e pleno médico ao mesmo tempo. Jogado para lá e para cá entre ciência e arte, não entrego meu pleno eu a nenhuma das duas e me atrapalho pela poesia no trabalho e pelo trabalho na poesia. Schnitzler escreve sobre a tragédia e o vazio do estilo de vida determinado pelas convenções sociais, distanciando-se em sua escritura, da mesquinharia com que o real era tratado na falsa sensação de harmonia social austríaca. Ao assumir as contradições e conflitos sociais extremos, evita a transfiguração do real e substitui uma realidade histórico-social por outra, “fictícia e ilusória [2]”. Merleau- Ponty (KON, 1996:40) diz que: A linguagem é, pois, este aparelho singular que, como nosso corpo, nos dá mais do que pusemos nela, seja porque apreendemos nossos próprios pensamentos quando falamos, seja porque os apreendemos quando escutamos outros. Quando escuto ou leio, as palavras não vêm sempre tocar significações preexistentes em mim. Têm o poder de lançar-me fora de meus pensamentos, criam no meu universo privado cesura onde outros pensamentos podem irromper. Corpo e linguagem revelam, portanto, o não tangível pelo real, aquilo que o real transborda. Não seus conceitos dados, mas sua percepção pulsante de mundo, sua transcendência. E o mundo estético, nesta conjuntura, funciona como mundo sensível, unidade indivisa do corpo e das coisas, não adepta à ruptura de sujeito e objeto. O desejo de possuir intelectualmente o mundo acaba por enrijecer o pensamento, negando seu caráter sensível, passível de ser sentido, experimentado, não apenas postulado distanciadamente. Kon (1996) explica que o corpo, em Freud, o provoca, o faz falar a dor, é sensível, dotado de sentido e mistério, e exige a criação de um novo corpo, de uma nova linguagem, solicitando o encontro de si mesmo no outro. Trata-se da aparição do duplo, que denuncia a impossibilidade de ruptura dicotômica entre ficção e realidade. É por meio da escrita que Freud constrói este pensamento e saber, tornando a linguagem literária, ou seja, produtiva. Acaba, assim, com o dualismo conteúdo e forma, ciência e arte, verdade e ficção, razão e fantasia. A força da literatura freudiana, segundo Kon (1996), ampliaria a própria noção de verdade, na medida em que mescla ficção e teoria, ao criar conceitos como pulsão e realidade psíquica. Inaugura uma nova inteligibilidade do homem, ao deslocá-lo de uma condição de verdade rígida e previsível. Hugo von Hofmannsthal, poeta, dramaturgo e ensaísta vienense, conceitua o “moderno”, em 1893 (KON, 1996:55), como: Hoje duas coisas parecem ser modernas: a análise da vida e a evasão da vida. [...] Pratica-se a anatomia da vida psíquica pessoal, ou sonha-se. Reflexão ou fantasia, imagem espetacular ou imagem onírica. Modernos são móveis antigos e neuroses recentes. [...] Modernos são Paul Bourget e Buda; dividir átomos e jogar bola com o cosmo; moderno é a dissecação de um estado de espírito, de um suspiro de um escrúpulo; e moderno é a entrega instintiva, quase sonambúlica, a cada revelação do belo, a uma harmonia das cores, a uma metáfora cintilante, a uma alegoria maravilhosa. Freud se sente desconcertado por escrever submetido também ao inconsciente, alheio a sua tentativa de manter-se homem de ciência capaz de controlar as condições de sua investigação, insubmisso a inspirações aleatórias. O fato é que sua obra tem muito de sensibilidade literária e enquanto ele pensava, segundo Lydia Flem (KON, 1996:57), “conduzir uma exploração do inconsciente, é o inconsciente que o conduz". Kon (1996) defende que Freud, com toda sua perspicácia cientificista, está inescapável às leis que cria e aos mecanismos que elucida. Não há divisão entre objeto de observação e observador. Não é viável, não é possível, segundo a autora, tratar do inconsciente sem tratar com ele. Kon (1996) elucida que a arte, semelhantemente, guarda em seu fazer um paradoxo, já que não é reflexo nem cópia do mundo, e tampouco é criação meramente instintiva e/ou escrava do bom gosto. De acordo com a autora, a arte não tem que resolver a fusão consciência/mundo e é por isso que ainda que Freud tenha pretendido não dar lugar ao imaginário, mas, ao contrário, domar a criação artística por intermédio de suas teorias, o fato é que fez de sua escrita um ato artístico, expressivo, lançando-se inescapavelmente no enredo da sensibilidade. O embate de Freud, segundo Kon (1996) é contra a tentação da imaginação especulativa. E o inescapável é que enquanto criador científico engajado em sua obra, inevitavelmente, transforma-se no e pelo trabalho. O psicanalista é também movido por suas fantasias pessoais e, considerando o contexto de passagem para o século XX e fundamentação da modernidade, a psicanálise, igual que a Arte, acaba por engendrar um questionamento sobre o poder da razão diante do irracional, da morte, da irrupção sexual. Talvez por isso mesmo é que Freud tenha sua obra incorporada por artistas e intelectuais diversos ao longo do século XX. Sua aversão à loucura artística não o isentou de deixar escapar sua atração pela mesma. A subversão que a obra freudiana pulsiona não condiz com o sujeito criador, ao que parece. Não há correspondência direta entre suas preferências pessoais e o caráter estético de sua obra. Em Estudos sobre a Histeria, 1985, Freud (KON, 1996:108) diz: A mim causa singular impressão comprovar que minhas histórias clínicas carecem, por assim dizer, do severo selo da ciência, e que apresentam mais um caráter literário. Mas consolo-me pensando que este resultado depende inteiramente da natureza do objeto, e não de minhas preferências pessoais. O diagnóstico local e as reações elétricas não têm eficácia alguma na histeria, enquanto uma exposição detalhada dos processos psíquicos, tal como estamos habituados a encontrar na literatura, me permite chegar, por meio de um número limitado de fórmulas psicológicas, a um certo conhecimento da origem de uma histeria. Freud faz questão de defender-se, assegurando que parece estar afastado do “severo selo da ciência” não por opção pessoal, mas por conta de seu objeto de investigação do momento: a histeria. E, de fato, ao não fazer mais parte dos objetos de estudo da medicina, a histeria encontrava-se distanciada mesmo do selo da ciência. A ciência é sempre o foco digno de interesse e estudo na ótica freudiana e perceber, portanto, alguma literalidade em sua prática, o divide entre o imaginário e o factício, posição esta desconfortável para o autor. Kon (1996:110-111) explica que: O imaginário é aceito por Freud como uma escória cuja presença é inicialmente inevitável e que só é tolerada na esperança de que será em seguida possível extrair o metal puro: os fragmentos de “verdade” ou de “realidade” que dão ao conjunto do transbordamento fantástico uma sombra de autenticidade. Vale salientar a visão freudiana quanto aos temas: visão da realidade, da história, da memória, do mito e da ficção. A psicanálise freudiana compreende o resgate do passado, enquanto realidade não mais existente, a partir de uma construção criativa ficcional do presente. A memória, neste caso, cumpre papel de ato criador. Há, então, um repensar sobre a diferença entre narrativa ficcional e narrativa histórica. Bento Prado Jr[4] (KON, 1996:117), em seu texto A Narrativa na Psicanálise, entre a História e a Ficção, ratifica este ponto de vista ao explicitar que: Trata-se antes de reencontrar (nos fantasmas originários) o anonimato de uma narrativa mítica e universal, por debaixo da riqueza aparente dos conteúdos particulares da existência singular. Ou melhor, nesta perspectiva, a subjetividade não mais está ordenada ao efetivamente vivido (ou à proliferação inesgotável do imaginário), mas a uma estrutura, isto é, a algo como uma ausência necessária, ou de algo que é, por essência, irrepresentável. A cena primitiva, coração do fantasma originário, é a própria origem (irrepresentável) do fantasma. Passamos, assim, da temporalidade segura da biografia e da história, a uma outra forma de temporalidade, onde a força de retroação subverte o esquema teleológico. [...] O importante é notar quão essencial é a inscrição, no processo analítico, de uma espécie de temporalidade invertida, sobre a temporalidade teleológica da ação e que termina por neutralizá-la – sem o que, aliás, não haveria lugar para o inconsciente. Essa retroatividade essencial, que parece expulsar a teleologia em benefício de uma “arqueologia”, [...] essa arqueologia perfeitamente fantástica, já que parece não haver outra relação com a origem que não seja fornecida pela própria fantasia, esse punctum caecum ineliminável de toda consciência. Segundo Bento Prado Jr (KON, 1996) ao reconstruir historicamente o aparelho psíquico (a humanidade), Freud, na verdade, opera explicitamente uma fantasia original, mítica e estrutural, a despeito de sua necessidade de busca por fatos “reais”. Há uma oscilação, quanto à memória, na obra freudiana entre a construção ficcional e a procura pelo fato, configurando, assim, um fazer científico fantasioso, um mito científico. Cabe destacar que tal oscilação freudiana quanto à noção de realidade culminará em diferenças fundamentais na prática psicanalítica contemporânea, segundo Kon. Quando Freud assume sentir um “estranhamento familiar” com a criação literária de Schnitzler, faz todo sentido, uma vez que este último também reconstrói a humanidade, na medida em que denuncia o desespero social ocultado pela imagem da aparência. Jogos de azar, adultérios, endividamento são temas de suas obras, desmistificando assim, a solidez de imagens meramente agradáveis dos bons costumes da sociedade vienense. Sua obra polemiza a sociedade austríaca não exatamente por ser verdadeira, mas por ter descoberto o real aparente. Freud e Schnitzler se dedicam, ambos, à problemática humana e denunciam a falsidade do estilo de vida de sua sociedade. Desconstroem imagens icônicas, promovem um salto à imaginação, buscam o verdadeiro real, a verdadeira vida, e constroem um novo mundo. Fictício, mas não hipócrita. Há um ceticismo, em ambos, quanto à eficácia humana de resolução de seus problemas por meio da razão e da moral. E o caminho que adotam para formular suas críticas também é dual, na medida em que Schnitzler, médico, afasta-se da medicina e mergulha na literatura para aprofundar-se na questão da humanidade, enquanto Freud, médico, se debruça na ciência, constrói a psicanálise e se vê atravessado pelo discurso literário, inescapavelmente, ainda que não fosse seu desejo aparente e inicial. Kon (1996:143) nos conta que: Freud, nessa fase, sonhava para escrever e escrevia para sonhar, escrevia sonhando. Seu livro do sonho é, assim, vivido como proveniente de uma escrita que lhe escapa, obra que se faz apesar dos esforços e resistências de Freud e que tem, também, como no caso dos escritores criativos, seu material originário de suas próprias lembranças e desejos infantis. A alusão ao mundo infantil se dá porque tanto no brincar quanto na criação literária há abertura para a criação de um mundo outro, cujos elementos de realidade são realocados de lugar e papel, ao gosto do sujeito criador. Nas palavras de Freud (KON, 1996:142), em Um Estudo Autobiográfico, 1925: O artista, como o neurótico, se afastara de uma realidade insatisfatória para esse mundo da imaginação; mas, diferentemente do neurótico, sabia encontrar o caminho de volta daquela e mais uma vez conseguir um firme apoio na realidade. Suas criações, obras de arte, eram satisfações imaginárias de desejos inconscientes, da mesma forma que os sonhos [...]. Mas diferiam dos produtos a-sociais, narcísicos do sonhar, na medida em que eram calculados para despertar interesse compreensivo em outras pessoas, e eram capazes de evocar e satisfazer aos mesmos impulsos inconscientes repletos de desejos também nelas.
No entanto, vale salientar que Freud se coloca à distância do sonhador, do neurótico, da criança. Procura esquivar-se da possibilidade de parecer artista. E seu encontro com a arte, confessado a Schnitzler, não configura um encontro com a ficção, em contraposição do real, ou como transcendência a uma realidade insatisfatória, ou ainda, como engodo, mas como produtora de conhecimento tal qual ao que ele mesmo logra produzir ao aderir o caminho científico, radicalmente distinto, de análise de dados empíricos. Freud se vê atravessado pela Arte, quando se dá conta de seu poder de dizer coisas, de dizer o mundo, de produzir conhecimento semelhante ao que ele alcançou. Negado ou não, o parentesco existe. Em O Estranho, 1919, a partir de um episódio de perceber seu próprio reflexo em um vagão de trem, Freud (KON, 1996:173) também esboça o estranhamento quanto ao seu duplo: Estava eu sentado sozinho no meu compartimento no carro leito, quando um solavanco de trem, mais violento que o habitual, fez girar a porta do toalete anexo, e um senhor de idade, de roupão e boné de viagem, entrou. Presumi que ao deixar o toalete, que ficava entre os dois compartimentos, houvesse tomado a direção errada e entrado no meu compartimento por engano. Levantando-me com a intenção de fazer-lhe ver o equívoco, compreendi imediatamente, para espanto meu, que o intruso não era senão o meu próprio reflexo no espelho da porta aberta. Recordo-me ainda que antipatizei totalmente com sua aparência. Portanto, em vez de ficarmos assustados com nossos “duplos” [...], simplesmente deixamos de reconhecê-los como tais.
O estranhamento gera em Freud uma negação do que via. O psicanalista afasta, então, a imagem do estranho, que ganhou força, de acordo com as palavras de Kon (1996:172) na “suspensão do juízo de realidade, no embaralhamento entre percepção e fantasia” (KON, 1996, p.172). E, então, como reação à estranha familiaridade do reconhecimento de si no outro, no reconhecimento de sua natureza dupla, passa a recusá-la, a não assumi-la enquanto tal. Kon (1996) questiona sabiamente: o conflito freudiano é arqueológico, daquele que tem sede por desterrar realidades ocultas, ou artístico, enquanto criador de novas realidades? A ambição da modernidade perdura até hoje na tentativa de solucionar o problema da consciência/mundo, objetivo/subjetivo, dentro/fora e o que este inescapável paradoxo tem de atraente tem de assustador. A Arte, na concepção do esteta contemporâneo Luigi Pareyson (KON, 1996: 200), é “organismo que vive por conta própria e contém tudo o que deve conter” e a atividade artística se define por um “executar, produzir e realizar, que é, ao mesmo tempo, inventar, figurar, descobrir” (KON, 1996:201). Pode-se dizer, portanto, que a obra freudiana é fazer artístico, na medida em que é na sua forma, no ato de sua escrita, que há a criação de uma psicanálise, capaz de propiciar, por sua vez, um mergulho no conhecimento do homem sobre o próprio homem. É a partir de o seu fazer que a psicanálise é encontrada, concebida e inventada. Sua construção não se restringe a um desterrar de verdades ocultas, mas ao contrário, se efetiva a partir da construção e apropriação de novos sentidos de existência, de novas realidades e formas de ser e estar no mundo. Como bem salienta o célebre crítico da obra cortazariana, Davi Arrigucci Jr (1995), em O Escorpião Encalacrado: a poética da destruição em Julio Cortázar, o jogo é, na obra do escritor argentino, uma vocação efervescente, de cujo estudo se tem ocupado a crítica, a fim de compreender sua função. A princípio, Cortázar parece escrever para divertir-se, para jogar, para ser livre, para ser pleno. O jogo seria, nesta perspectiva, o jogo da autenticidade, da diversão, mas o fato é que, conforme salienta Arrigucci Jr., o jogo na obra de Cortázar funciona como potencialidade reveladora, como desvio da normalidade repetitiva, como um jogo de transcendência. Nas palavras de Arrigucci Jr. (1995:54): O que é importante frisar desde já é a possibilidade de tudo entrar nesse jogo: um anagrama, uma revolução, a busca de um sentido para a existência, a própria vida. Tudo pode entrar nessa dança lúdica e, de repente, remeter a outra coisa, como um elemento epifânico. Cortázar reconhece a precariedade do real. Sua busca é pelo fato puro, a escrita. Seu contato com o escrito o faz deslizar de um plano físico a uma superfície incorpórea e é justo desta mescla que se constitui a abertura a uma linguagem transcendente. O conto “Lejana”, da obra Bestiario e o conto “Reunión”, da obra Todos los fuegos el fuego, são exemplos desta predominância do jogo labiríntico, como atividade transcendente de busca pela verdadeira vida, através da irrupção com o que se considerava imutável pela sociedade. Ainda citando as obras do autor, em Rayuela, o jogo se constitui como o centro da construção formal e simbólica do texto, anunciado desde o nome “O jogo da Amarelinha”. A obra se constrói, do ponto de vista sintagmático, pela montagem de fragmentos, pela combinação de blocos justapostos, implicando uma estrutura literária cuja leitura deve, necessariamente, ser feita aos saltos. É dentro desta estrutura de montagem e fragmentações que o romance tradicional é criticado, por conta de uma abertura narrativa ao caos e desordem, não como rebeldia despropositada, mas como tentativa de encontro de uma nova ordem possível, inclusive no nível da estruturação dos significantes. Sobre esta obra, Arrigucci Jr. (1995:67) afirma que: O jogo-invenção configura, assim, um texto caleidoscópio, uma imagem, aliás, recorrente no seu interior; modela uma constelação de fragmentos em torno das unidades fundamentais do enredo, fazendo-as espraiar-se, esgarçando-as labirinticamente, cristalizando as insólitas figuras em que, para Cortázar, se trama a complexidade do real. A construção imagética de Rayuela implica, como bem elucida Arrigucci Jr, em uma visão global do texto que nasça de seus escombros, de sua fragmentação, de seus saltos, que por mais longe que possam ir, sempre acabam por ficar aquém do que se busca. Cortázar constrói nesta obra um algo que fica sempre enrodilhado, sejam lá em quais dobras da realidade múltipla de destino. Perseguindo uma metáfora, o escritor cria outras, talvez inclusive reprimindo a primeira, ou ampliando-a, mas nunca decifrando-a por completo, como que a encerrá-la no círculo do definitivo, do acabado e ponto final.É através do jogo do duplo que Cortázar dá vida aos fantasmas de seu desejo, gera um salto às imagens icônicas e contesta, por conseguinte, os poderes da ciência totalizadora das experiências. Seu jogo não parte de uma teoria da realidade e tampouco é uma doutrina da liberdade. Trata-se de uma tentativa de exercício concreto da liberdade, ou seja, de colocar em ação a livre disposição do homem em um corpo a corpo com o real. Antes da era moderna o mundo estava dotado de uma intencionalidade. A natureza, as coisas e os homens estavam submetidos a algo que os transcendia – a vontade Divina. Em seguida, tem-se a era capitalista da modernidade. Pois bem, a vanguarda de Julio Cortázar cria um fazer literário que tanto se recusa a adotar a primeira, como também a segunda visão. Seu jogo do duplo dá espaço a que se aflore o caráter subversivo da realidade. Com isso, provoca, segundo o poeta e ensaísta mexicano Octavio Paz (1983), reacomodações da nossa visão do real. O poder do humor e a arte de recriação imaginativa descentralizam a ideia do eu e tentam resolver a velha oposição do eu com o mundo. Não se trata de criar uma nova arte, e sim, um homem novo. O jogo do duplo põe em tela de juízo a realidade, mas a realidade também põe em tela de juízo a liberdade do homem. Trata-se de uma espécie de conjunção da dupla soberania entre liberdade e destino. Livre eleição da necessidade. Friedrich Schiller (ARRIGUCCI JR., 1995:67), em Cartas sobre a educação estética da humanidade, afirma que: Pois, para tudo sintetizarmos, o homem joga somente quando é homem no pleno sentido da palavra, e somente é homem pleno quando joga. Esta afirmação, que há de parecer paradoxal neste momento, irá ganhar um grande e profundo significado quando chegarmos a relacioná-la à dupla seriedade do dever e do destino; suportará, prometo-vos, o edifício inteiro da arte estética e da bem mais dificultosa arte de viver. Esta afirmação, contudo, é inesperada somente na ciência; já de há muito vivia e atuava na arte e no sentimento de seus maiores mestres, os gregos; estes, porém, transpunham para o Olimpo o que deveria ser realizado na terra[6] No jogo, caem os muros da prisão mental, espaço e tempo se abraçam e o caráter inesgotável da poesia denuncia o caráter inesgotável da própria experimentação humana. O poeta e ensaísta francês Charles Baudelaire (PAZ, 1983:43) afirma que “la imaginación es la más científica de nuestras facultades porque sólo ella es capaz de comprender la analogía universal, aquello que una religión mística llamaría la correspondencia [...][7]”. Escravo de si mesmo e dos outros, submetido ao terror do tempo e do trabalho, o homem moderno dá voltas em torno de si, como em um pesadelo. A abertura ao duplo cortazariano revela a existência de um lugar outro, no qual a sensibilidade de criação promove uma liberação ao homem e um quebrantamento da realidade. Cortázar afirma a realidade experimental da inspiração sem postular sua dependência de um poder exterior, como o Divino, a História, etc. A inspiração não é um mistério sobrenatural, nem uma vaga superstição ou enfermidade. Trata-se de uma realidade em contradição com nossas concepções básicas, uma possibilidade que se apresenta a todos os homens e os permite ir mais além de si mesmos. Vertigem, estranheza, reconhecimento, horror e, paradoxalmente, desejo de atravessar aquilo que ataca e descompõe nossas certezas de ser consciência pessoal e autônoma é a essência deste jogo. As imagens possíveis são as imagens que projetam essa busca. Imagens estas, imprevisíveis, assombrosas, desprovidas de semânticas habituais dos objetos, fatos e pessoas. É uma espécie de reconquista de um reino perdido: a palavra do princípio, o homem anterior aos homens e aos seus processos civilizatórios. O exercício da poesia exige o abandono, a renúncia ao eu. Não é seu papel salvar o eu, e sim, dissolvê-lo. No jogo do duplo, a linguagem é compreendida como poder autônomo, dotada de um magnetismo universal e, paralelamente, a poesia é entendida como uma substância, uma força realmente capaz de modificar a realidade. A natureza é linguagem e recobrar a linguagem natural é voltar à natureza, antes da História. A poesia busca a inocência das palavras e tal busca é revolucionária porque constitui uma tentativa de volta ao princípio do princípio. Em Cortázar, a experimentação do leitor é direta, despida e sem intermediários. A espontaneidade é aclamada e as reações são pessoais, embora não arbitrárias, já que tanto o horror quanto a fascinação são, na verdade, explicadas na busca pelo encontro com este outro, alheio a nós mesmos, mas que de repente nos convida a dar um passo adiante e fundir-se em um único ser. Revelar o escondido, despertar a palavra enterrada, suscitar a aparição do duplo humano, dar lugar a este outro que nos constitui, mas que nunca deixamos ser por completo são características do fazer literário cortazariano. Escândalo e segredo, profanação e consagração, ressurreição e iniciação, exposição e conspiração são bem vindos neste novo fazer literário. Enquanto isso, as arrogantes construções filosóficas e religiosas negam a coerência desta loucura, desta rebelião. Preferem crer na patética e restringida racionalidade consciente, que ignora a existência deste outro. Trata-se de uma poesia que retira o leitor privilegiado desta vida e o convida a dar um salto ao inóspito. Há liberação imaginativa da linguagem, um abandono do que se considera alienação, possibilitando uma originalidade inalterável. Cortázar permite um acesso ao coração das coisas, de maneira a ir para além do que está imanente. A arte é a maneira forte, segundo Matamoro (1994), de romper com o discurso rígido da História. E a arte cortazariana revela a busca do homem do século XX pela origem e centro do mundo. Ainda sob apropriação das ideias de Blas Matamoro (1994), o costume torna classificável e morto, visível e exposto aquilo que alguma vez esteve vivo, e o contar da arte é o contar do que está irregular, daquilo que surge de uma visão atenta da realidade, que dá acesso a outras realidades. E esta nova realidade descoberta, por sua vez, se impõe como igualmente verdadeira e planteia um sujeito que dê conta dela. Linguagem e paixão são manifestações de uma linguagem única. E esta nova linguagem na forma de se fazer arte é a enfermidade sagrada de um novo tempo. Cortázar dissolve a modernidade na mesma medida em que repudia a tradição. Sobre a intenção de sua escrita, Cortázar (ARRIGUCCI JR., 1995:72) afirma que: Mucho de lo que he escrito se ordena bajo el signo de la excentricidad, puesto que entre vivir y escribir nunca admití una clara diferencia; si viviendo alcanzo a disimular una participación parcial en mi circunstancia, en cambio no puedo negarla en lo que escribo puesto que precisamente escribo por no estar o por estar a medias. Escribo por falencia, por descolocación; y como escribo desde un intersticio, estoy siempre invitando a que otros busquen los suyos y miren por ellos el jardín donde los árboles tienen frutos que son, por supuesto, piedras preciosas. El monstruito sigue firme[9]. O escritor argentino se lança ao mundo com uma dupla abertura, cujo sentimento é de “não estar de todo”, sendo, a seu ver, a figura do poeta, conforme especifica Arrigucci Jr. (1995:72), como “um ser de ubiquidade dissolvente”. Seu jogo parte, então, de uma descolocación, de um desarraigamento de base, como um rito de passagem, que, segundo Arrigucci Jr., (1995: 72) “originando-se numa posição existencial, se transforma num sentido da experiência artística”. Se, jogando, se descobre a realidade, o jogo conduz à própria essência da poesia como descoberta e posse do real. Assim, a invenção lúdico-poética, no núcleo desse projeto de construção literária, se faz uma espécie de iniciação ao absoluto, e o labirinto, imago mundi, surge como a árdua e desnorteante caminhada até o centro problemático, envolto na ambiguidade do mundo. O jogo-arte é tão sério quanto o jogo de palavras do qual se valem os escritores para ironizar, admoestar, e instruir seu público leitor. O lúdico em Cortázar, segundo Arrigucci Jr., sempre se direciona a um estranhamento diante do mundo, o qual o escritor ora explica, ora ironiza, ora tensiona e – sempre – potencializa. O jazz, a poesia e o jogo são elementos sempre presentes na obra de Cortázar. Como bem enaltece Arrigucci Jr¸ o estudo de qualquer um destes temas direciona, inescapavelmente, a um projeto literário de reinvenção perpétua. A crença é de que somente pela invenção logra-se alcançar uma linguagem poética que se adeque à busca transcendente que lhe produz sentido. Para Cortázar, a linguagem é uma questão metafísica, uma forma de questionar o mundo, rebelar-se, cujo fundamento é a própria relação do homem com seu meio. Seu jogo é lúcido e é dentro do campo da narrativa que a literatura sonda seus limites. O procedimento é o de inserir no interior da obra de arte seus problemas técnicos e simbólicos. Conforme Arrigucci Jr. (1995:166), trata-se de um “desnudamento metalinguístico da própria ficção”. O jogo é o de busca sem crença, na tentativa de atingir o que não se pode dizer, constituindo, assim, um cenário de labirinto verbal. Sobre o papel do narrador, nesta conjuntura de criação literária cortazariana, Arrigucci Jr. (1995:183) elucida que: No caso de Cortázar, o narrador tende sempre, ao contrário, a assumir a perspectiva da personagem (daí a constância das cenas diretas, do monólogo interior, do estilo indireto livre, em contraste com a narração indireta e o distanciamento de Borges), instaurando a visão ambígua, porque interna e limitada, do mundo e da vida. Ou seja, o narrador tende a viver, juntamente com a personagem, a ambiguidade do mundo, sem lançar mão de um descortino mais amplo do destino desses seres complexos, contraditórios, problemáticos, que habitam o seu universo de ficção. É daí que se explica o predomínio marcante, na narrativa cortazariana, da primeira pessoa, ainda que esta se faça, em princípio, em terceira. Tal identificação entre narrador e personagem leva o contista a desaparecer no interior da narrativa, de forma a construí-la a partir de seu centro, em direção à sua superfície, como se o conto configurasse uma esfera, conforme o próprio Cortázar defende sê-lo, em mais de uma ocasião. É característico da teoria literária moderna o fato de a técnica ter o papel de condicionar o desenvolvimento temático e, em simetria, ser condicionada pelo tema. Tocar na técnica significa tocar nos demais aspectos da obra e viceversa. Há, na poética do escritor argentino, uma analogia entre a existência humana e o jogo, na qual o eu encontra-se emaranhado na trama lúdica e ambígua, desconcertado em meio ao mistério plurifacetado do mundo, mas, fazendo da desordem e do absurdo vividos, bússola para a busca de sentido. A porosidade do universo cortazariano acolhe bem as estranhas relações de duplicidades no campo psicológico humano. Sua visão figural relaciona, ludicamente, pessoas, coisas, ações, cotidiano e imaginário, para além do furor lógico que paradigmatizam tais categorias, isoladamente. O fato é que o autor constrói, ainda que aflorando o caos, imagens significativas. Cada uma destas imagens é definida por Arrigucci Jr. (1995:191) como “imagem intuitiva que compõe a unidade a partir do fragmentário”. O interessante é que, na percepção do autor, se o real insiste e teima em ser percebido, sempre poderá manifestar-se em outro lugar. Esta recusa do real pode seguir caminhos variados: o indivíduo pode aniquilar o real aniquilando a si mesmo, como no caso do suicídio, pode suprimir o real com menores inconvenientes, salvando a sua própria vida sob o preço de uma ruína mental, como no caso da loucura ou, pode, ainda, decidir não ver um real, do qual sob um outro ponto de vista reconhece a existência, sem sacrificar nada de sua vida nem de sua lucidez, como uma atitude de cegueira voluntária. No entanto, Rosset (2008) salienta que estes tipos de recusa do real permanecem marginais e relativamente excepcionais, visto que a atitude mais comum, diante de uma realidade desagradável, é mais flexível, graças a um modo de recepção do olhar ubicado a meio-caminho entre a admissão e a expulsão pura e simples, que não diz sim nem não à coisa percebida, ou melhor, diz sim e não, concomitantemente. Sim à coisa percebida e não às consequências que normalmente derivam desta. Rosset (2008:16) explica que: Esta outra maneira de se livrar do real assemelha-se a um raciocínio justo coroado por uma conclusão aberrante: é uma percepção justa que se revela impotente para acionar um comportamento adaptado à percepção. Não me recuso a ver, e não nego em nada o real que me é mostrado. Mas minha complacência para por ai. Vi, admiti, mas que não me peçam mais. Rosset (2008:21) atribui à ilusão “a arte de perceber com exatidão, mas de ignorar a consequência”. Desta forma, o iludido transforma o ocorrido único que percebe em dois acontecimentos que não coincidem, de maneira que a coisa que percebe é posta em outro lugar que, segundo o autor, torna-se incapaz de se confundir consigo mesma. Tudo ocorre como se o acontecimento único fosse magicamente cindido em dois, ou seja, como se dois aspectos de um mesmo acontecimento viessem a adotar cada qual uma existência autônoma. Há um vínculo estreito, na perspectiva do filósofo, entre a ilusão e o duplo. A técnica geral da ilusão é transformar determinada coisa em duas, semelhante à técnica do ilusionista, que conta o mesmo efeito de deslocamento e duplicação da parte do espectador. Este último, ao mesmo tempo em que se ocupa da coisa, dirige seu olhar para outro lugar, para onde nada acontece. Segundo Rosset (2008:51) “todo acontecimento é, na realidade, homicídio e prodígio” e o destino não aponta para o caráter inevitável do que acontece, mas para seu caráter imprevisível. A realidade, para o filósofo, é idiota, porque antes de o termo significar imbecil, significa simples, particular, única de sua espécie. Tal idiotia da realidade é já há muito reconhecida pelos metafísicos, os quais defendiam que o “sentido” do real não poderia ser encontrado aqui, mas sim, em outro lugar. A dialética metafísica é uma dialética de um aqui do qual se duvida ou se recusa, o qual deve ser esclarecido por este outro lugar. Cortázar parece ter reconhecido exatamente esta idiotia do real e sua literatura é senão uma forma de denunciar este aqui que se duvida, que se recusa, e que por isso mesmo, precisa de um desvio ao seu duplo, a uma possibilidade outra de acontecimento. A duplicação do real constitui, segundo Rosset (2008), a estrutura oracular de todo acontecimento e, vista de outro ponto de vista, constitui a estrutura fundamental do discurso metafísico. Rosset (2008:57) defende que, na estrutura metafísica, “o real imediato só é admitido e compreendido na medida em que pode ser considerado a expressão de outro real, o único que lhe confere seu sentido e a sua realidade”. Rosset (2008:57) alude ao fato de: Este mundo aqui, que em si mesmo não tem nenhum sentido, recebe a sua significação e o seu ser de outro mundo que o duplica, ou melhor, do qual este mundo aqui é apenas um sucedâneo enganador. E é a particularidade da imagem “metafísica” fazer pressentir, sob as aparências insensatas, ou falsamente insensatas, a significação e a realidade que asseguram a sua infraestrutura e explicam precisamente a aparência deste mundo-aqui, que é apenas a manifestação ao mesmo tempo primordial e fútil de um espantoso mistério. A filosofia marxista, por exemplo, busca descobrir no real aparente a lei Real que explique, concomitantemente, seu sentido e devir. Pretende-se, assim, assumir um falso e um verdadeiro, apontando inclusive uma predição, anúncio do futuro. Mas, o fato é que, na verdade, e num sentido de teoria da reminiscência, jamais neste mundo poderia existir uma experiência realmente primeira. A realidade humana, segundo Rosset (2008), está privada de presente. O filósofo francês (ROSSET, 2008:64) defende que: Mas o presente seria por demais inquietante se fosse apenas imediato e primeiro: ele só é acessível pelo viés da representação, portanto, segundo uma estrutura iterativa que o assimila a um passado ou a um futuro graças a um ligeiro deslocamento que corrói o seu intolerável vigor e só permite sua assimilação sob a forma de um duplo mais digerível que o original na sua crueza primeira. Rosset (2008:67) diz que “um duplo, por piedade, parece buscar a pessoa que o presente sufoca”. O presente funciona como justamente o que não é percebido, configurando o invisível, o insuportável. E é nesta medida que uma filosofia pode ajudar a viver: porque apaga o real em proveito da representação. O passado e o futuro sempre estão presentes para apagar o brilho do não perceptível e insuportável do presente. Na literatura cortazariana, de semelhante modo, há exatamente este movimento: o de duplicar, em busca de um eu menos sufocado pelo presente e seu real aparente.O que importa é a insuficiência do real em dar conta de si mesmo, em assegurar sua própria significação. Esta é a razão da necessidade de se buscar em outro lugar o sentido para sua realidade imediata. O que importa é o fato de o sentido não estar aqui, mas em uma dimensão outra que implica a duplicidade do acontecimento, o desdobramento em dois elementos: de um lado sua manifestação imediata, e de outro, o que esta manifestação manifesta, isto é, seu sentido. O sentido é fornecido não por ele próprio, mas pelo outro, daí a busca de sentido para além das aparências ter sido sempre uma metafísica do outro. É o outro do sensível, por exemplo, que explica o sensível. E o outro não é outra coisa senão o mesmo e, nesta conjuntura, o real é significante apenas quando não encontra seu lugar. É a partir do século XIX que o tema literário do duplo aparece com insistência particular (Hoffmann, Chamisso, Poe, Maupassant e Dostoiévski são alguns de seus ilustradores). Porém, a origem do duplo é evidentemente mais antiga, no sentido de desdobramento de personalidade, e não se restringe à literatura, mas está presente também na pintura e na música. Rosset (2008:92) afirma que: Sabe-se que o espetáculo do desdobramento de personalidade no outro – tema abundantemente ilustrado pelo romance e pelo filme de terror – é uma experiência de efeito aterrorizante garantido. Pensava-se tratar com o original, mas na realidade só se havia visto o seu duplo enganador e tranquilizador; eis de súbito o original em pessoa, que zomba e se revela ao mesmo tempo, como o outro e o verdadeiro. Talvez o fundamento da angústia, aparentemente ligado aqui à simples descoberta que o outro visível não era o outro real, deva ser procurado num terror mais profundo: de eu mesmo não ser aquele que pensava ser. E, mais profundamente ainda, de suspeitar nesta ocasião que talvez não seja alguma coisa, mas nada. Segundo Rosset (2008), não há eu que seja apenas eu, não há aqui que seja apenas aqui, não há agora que seja apenas agora. Ainda sob apropriação das palavras do filósofo (ROSSET, 2008:93): Tal é exigência do duplo, que quer um pouco mais e está disposto a sacrificar tudo o que existe – quer dizer, o único – em benefício de todo o resto, isto é, de tudo o que não existe. Esta recusa do único, aliás, é apenas uma das formas mais gerais de recusa da vida. A arte nobre almeja pintar coisas, não acontecimentos. O mundo que esta percebe não é aquele dos acontecimentos insignificantes, mas o da matéria viva e rica, por excelência. Como contraponto, há a tentativa de institucionalização da vida pelas convenções sociais. Rosset (2008:110) alude ao fato de que: Os sofistas gregos, ao que parece, haviam compreendido bastante profundamente que só a instituição – e não uma hipotética natureza – é capaz de dar corpo e existência ao que Platão e Aristóteles conceberão como “substâncias”: o indivíduo será social ou não será; é a sociedade, e suas convenções, que tornarão possível o fenômeno da individualidade. O que garante a identidade é e sempre foi um ato público: uma certidão de nascimento, uma carteira de identidade, os testemunhos concordantes do porteiro e dos vizinhos. A pessoa humana, concebida como singularidade, só é assim perceptível a ela mesma como “pessoa moral”, no sentido jurídico do termo: quer dizer, não como uma substância delimitável e definível, mas como uma entidade institucional que garante o estado civil, e apenas o estado civil. Isto quer dizer que a pessoa humana só existe no papel, em todos os sentidos da expressão: ela existe sim, mas “no papel”, só é perceptível do exterior, teoricamente, como possibilidade mais ou menos plausível. Parece grotesco, mas o fato é que se estamos sem documentos, estamos sem possibilidade de provarmos que somos nós mesmos, que existimos. Para além do formalismo burocrático, há um emergir de angústia mais profundo que tem como busca a identidade – não a legal – mas a existencial. E é esta sensibilidade angustiada que Cortázar logra traduzir em sua obra. Não resolve o problema, para além do universo literário, mas denuncia-o. No mundo de Cortázar o documento não é o lugar-comum da segurança, ao contrário, é evasivo, descartável, risível. A institucionalização dos modos de vida, prometendo libertar a humanidade, rebaixa-a a um nível bestial de existência. O homem não é nada fora de seu duplo, só existe no papel. Nesta perspectiva, queimar o duplo é, ao mesmo tempo, queimar o único. Segundo Rosset (2008:113), “não que o indivíduo seja de papel, mas porque ele é incapaz de tornar-se visível – enquanto único – em outro lugar que não no papel”. A necessidade de projetar-se em seu reflexo está ligada, então, a uma angústia de saber que não se é inteiro em si mesmo. Rosset (2008:115) diz que “a ideia segundo a qual eu sou é apenas uma vaga suposição, ainda que insistente”. O apego ao papel é, neste caso, uma solução desesperada. Ao menos os documentos precisam tornar verídica a existência do eu, já que esta é duvidosa. Vale mais um papel sólido que uma vida incerta. O duplo interessa, então, a qualquer homem em crise consigo mesmo. É esta compreensão que Cortázar absorve em sua obra. Não teme deixar ver a banalidade que se tornou a existência humana engendrada na institucionalização da repetição, ao contrário, utiliza a linguagem como mecanismo de subversão e cria uma arte inconformada com o patético. Referências Bibliográficas ARRIGUCCI JR, Davi. O escorpião encalacrado: a poética da destruição em Julio Cortázar. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. CORTÁZAR, Julio. Bestiario. Buenos Aires. Punto de lectura. 2004. (1ª. ed., 1951) _____, Julio. La vuelta al día en ochenta mundos. México: Siglo Veintiuno, 1ª. ed., 1967. ______, Julio. Rayuela. Buenos Aires: Sudamericana, 5ª. ed., 1967 (1ª. ed., 1963) DURAND, Gilbert. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. Rio de Janeiro: DIFEL, 1998. FLEM, Lydia. O Homem Freud. O Romance do Inconsciente. Rio de Janeiro: Campus, 1993. KON, Noemi Moritz. Freud e seu duplo: reflexões entre psicanálise e arte. São Paulo, EDUSP/FAPESP, 1996. MATAMORO, Blas. “Apuntes Cortazarianos”. Cuadernos Hispanoamericanos (525), 1994, p. 53 – 67. PAZ, Octavio. La búsqueda del comienzo. 3ª ed. Madrid: Espiral/ Fundamentos, 1983. PRADO JR., Bento. “A Narrativa na Psicanálise, entre a História e a Ficção”. In: RIEDEL, D. C. (org). Narrativa: Ficção e História. Rio de Janeiro: Imago, 1988. ROSSET, Clément. O real e seu duplo: ensaio sobre a ilusão. 2ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008. SCHILLER, Friedrich. Cartas sobre a educação estética da humanidade. São Paulo: EPU, 1991. [1] Mestranda em Literatura Hispano-americana na Universidade Federal do Rio de Janeiro (2011). Graduada em Letras (Português-Espanhol) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2011). Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Intercâmbio universitário na Universidad de La Coruña- España no curso de Filología Hispánica (2007-2008). [email protected] [2] Definição atribuída por Noemi Moritz Kon, em Freud e seu duplo, 1996, p.136. [3] Cf. FLEM (1993). [4] Cf. PRADO JR (1988) [5] Adotaremos neste estudo o conceito de imaginário, segundo o teórico francês Gilbert Durand, 1998, p.6, definido como um “museu [...] de todas as imagens passadas, possíveis, produzidas e a serem produzidas”. Cf. DURAND (1998). [6] Cf. SCHILLER (1991). [7] Cf. PAZ (1983). [8] MATAMORO (1994) pp. 53–67. [9] Cf. CORTÁZAR (1967) p.23. |
O jogo do duplo em Cortázar |